Will Smith e bons atores fazem de Aladdin uma bela viagem no tapete mágico

Desde que começou a refilmar seu catálogo de animações, a Disney tem seguido dois caminhos. De um lado, adaptações que seguem o desenho original à risca, como Cinderela, Mogli e A Bela e a Fera. De outro, filmes como Alice no País das Maravilhas, Malévola e Dumbo, que constroem uma narrativa nova em cima da premissa existente. Embora Aladdin incline-se para a primeira opção, alguns elementos fazem com que o filme de Guy Ritchie tenha personalidade própria. O que é um espanto, considerando que a produção dessa nova versão do sucesso de 1992 foi tumultuada desde o começo, em especial pela dificuldade em fechar seu elenco. O resultado, porém, é um pedaço de entretenimento equilibrado, que compensa uma certa deficiência em apuro visual com dois protagonistas absolutamente charmosos e com um astro que justifica seu nome no topo dos créditos: Will Smith.
E aqui é precisa cautela para usar a palavra "astro". É certo que Smith é um dos poucos atores que ainda mobiliza plateias globais. Mas faz tempo que seu nome não é sinônimo de sucesso – eu chutaria que seu último grande filme foi Eu Sou a Lenda, de 2006, já que as bilheterias gordas de Homens de Preto 3 (2012) e de Esquadrão Suicida (2016) estavam associadas a grifes que não a sua própria. Em Aladdin, entretanto, Will usa seu charme natural e sua bagagem como astro (aqui sem nenhuma cautela) para ancorar uma produção que precisava de um grande nome. Afinal, se a animação original foi a maior bilheteria mundial em 1992, um naco gigante do mérito foi de Robin Williams, que emprestou sua voz ao Gênio da Lâmpada e revolucionou o modo como a Disney ia conduzir seus longas, colocando celebridades por trás de dezenas de personagens animados – prática que se tornou padrão na indústria. Will Smith surge como MVP no novo Aladdin ao tomar a decisão inteligente de não querer imitar o trabalho de Williams. Em vez disso, ele emprestou ao Gênio uma versão anabolizada de sua própria personalidade. O resultado garante os melhores momentos do novo filme.
Leia também:

Naomi Scott como Jasmine, a grande estrela do novo Aladdin
Colocar estrelas de Hollywood para dublar personagens animados não foi a única revolução alavancada por Aladdin 27 anos atrás. A Disney acabara de experimentar um renascimento, deixando uma época de produções esquecíveis para traz. Sob nova gerência, o estúdio voltou à boa forma em 1989 com A Pequena Sereia, e cravou uma indicação ao Oscar de melhor filme dois anos depois com A Bela e a Fera. Mas Aladdin foi um produto ainda mais redondo, disparando uma tradição anual com novos filmes do estúdio que, em seu estilo de animação tradicional, chegou ao auge nas bilheterias em 1994 com O Rei Leão, que chegou perto de quebrar a barreira de 1 bilhão de dólares em todo o mundo. Além do sucesso nos cinemas, Aladdin também marcou pontos como produto, já que foi o primeiro dos filmes Disney a ganhar uma continuação para o mercado doméstico que mostrou o potencial absurdo da marca. O Retorno de Jafar foi uma aventura produzida em 1994 para ser vendida em VHS, custou um troco (3.5 milhões de dólares) e faturou, depois de cerca de 10 milhões de cópias vendidas, cerca de 300 milhões de dólares. Havia, claro, a preocupação em diminuir a marca Disney com produtos cuja qualidade não se comparava a um lançamento em cinemas. Mas nove dígitos em caixa fazem com que todo o resto se torne secundário.
O mundo de 2019 não funciona mais como a indústria do entretenimento dos anos 90, e a única maneira de Aladdin ganhar uma sobrevida seria como uma megaprodução capaz de equilibrar nostalgia e espetáculo. E o filme não decepciona, em especial com a decisão de seguir a trama do desenho de perto – as mudanças foram menos estéticas e mais sociais, já que em um mundo que busca maior equilíbrio em representatividade, a princesa Jasmine (Naomi Scott) não podia ser apenas uma donzela em perigo, e o roteiro de John August aborda esse aspecto sem perder de vista a magia da trama. Também não seria de bom tom povoar um filme ambientado na Arábia com um elenco ocidental, e o estúdio tomou cuidado extra para encontrar protagonistas que respondesse a essa sensibilidade. De resto, é a história que algumas gerações conhecer de cor. No reino de Agrabah, Aladdin (Mena Massoud) um órfão ladrão encanta-se com uma cortesã do palácio, sem saber que ela é na verdade a princesa do lugar. A atração é mútua, mas suas chances são limitadas devido a sua posição na sociedade. Entra em cena o vizir do sultão, o ambicioso Jafar (Marwan Kenzari), que precisa de um "diamante bruto", alguém que entre na Caverna das Maravilhas e adquira a lâmpada mágica. Daí segue o riscado "Noites da Arábia"/"Nunca Teve um Amigo Assim"/"Príncipe Ali"/"Um Mundo Ideal"/"Ninguém Me Cala" (essa é uma canção nova, alinhada com Jasmine versão 2019)/verdades e mentiras, o bem e o mal. E Abu.

Guy Ritchie dirige Mena Massoud, o Aladdin para a nova geração
O mais curioso do novo Aladdin é como Guy Ritchie está escondido por trás do gigante corporativo que é a Disney. Seu estilo acelerado, visto de Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes aos dois Sherlock Holmes com Robert Downey Jr. está misteriosamente ausente. É curioso imaginar um estúdio contratando um diretor de assinatura visual única e puxar suas rédeas no set. Mas a verdade é que Ritchie é um profissional consumado, acostumado a jogar o jogo do cinemão, e usa a construção do mundo hiper realista de Agrabah como ferramenta narrativa para destacar a personalidade do filme. Mais ainda: ele confia em seus astros para trazer o encanto, e não em firulas visuais. Massoud é um Aladdin charmoso, que encaixa perfeitamente com o espírito curioso e desafiador emprestado por Naomi, que é espetacular e a grande heroina do filme, para Jasmine: é fácil acreditar no romance, e por isso a gente embarca na viagem. Pontos também para Will Smith, que foi generoso o bastante para compartilhar a cena com seus colegas, e não roubar o espetáculo para si. Se existe um porém no elenco é Marwan Kenzari: seu Jafar nunca parece ameaçador o bastante, ardiloso o bastante, maligno o bastante. E eu quero que meus vilões Disney sejam a encarnação do mal, oras!
Comportado e correto, Aladdin faz um trabalho eficiente em reproduzir o visual da animação, dando a Agrabah o arquétipo do "reino árabe" que pertence mais à imaginação do que à vida real. Ainda assim, é decepcionante que o filme não explore mais sua geografia. Depois do começo deslumbrante na Caverna das Maravilhas, e da entrada triunfal de Aladdin como Príncipe Ali na cidade (um desfile carnavalesco no bom sentido), o filme carece de sequências memoráveis e ancora-se demais em Will Smith para manter a exuberância no alto. O clímax, por sinal, parece pobre se comparado ao resto da aventura, com poucos figurantes em cena e um confronto palaciano comedido no momento errado. A maior contribuição de Guy Ritchie, no fim, é o equilíbrio. Saber o que manter do desenho de 1992, e saber onde reimaginar a história para o novo século. Funciona e, mesmo sem o impacto do original, é uma lembrança da beleza e da magia dos contos de fada – o que, honestamente, precisamos mais do que nunca. Agora, imagine como o filme seria se estivesse nas mãos de um cineasta capaz de transformar o exagero, o caos, o amor desmedido e o apuro visual de detalhes riquíssimos, cafonas e sensacionais em arte: já pensaram em Aladdin assinado por Baz Lurhman?





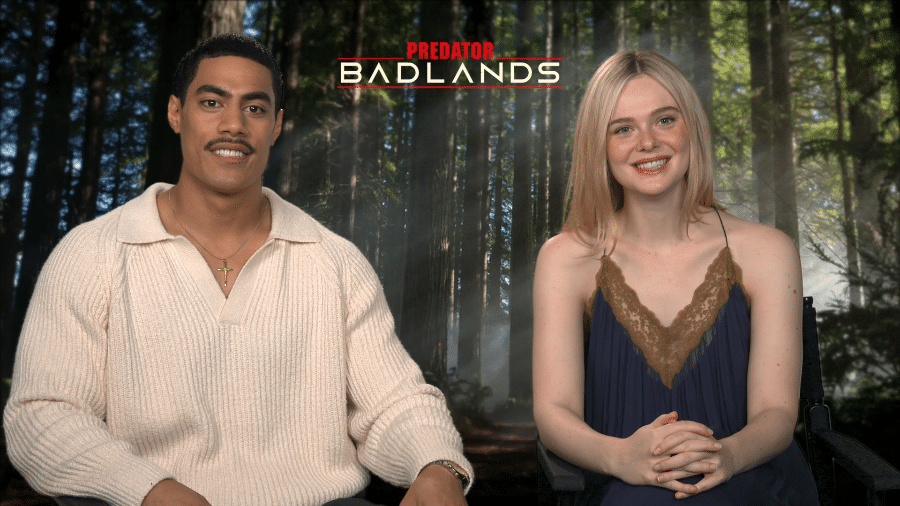






ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.